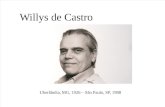Eduardo Viveiros de Castro
-
Upload
fabio-tremonte -
Category
Documents
-
view
103 -
download
4
description
Transcript of Eduardo Viveiros de Castro
-
!" # $ % # & ' % (
")*+,)-./0120,-3.)2.$+34,-
-
5" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
$-:2;
-
V" # $ % # & ' % (
-,D+=0G+;
-
W" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
"=>-=4,-3
-
X" # $ % # & ' % (
8Y,232=4+;
-
f" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Apresentao
-
e" # $ % # & ' % (
H%'.'"#8&%.(T&7&E8#
-
g" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Talvez eu deva concluir que, se penso, ento tambm sou um outro.
Pois s o outro pensa, s interessante o pensamento enquanto po-
tncia de alteridade. O que seria uma boa definio da antropologia.
E tambm uma boa definio da antropofagia. [...] S me interessa o
que no meu. Lei do homem. Lei do antropfago. Lei do antrop-
logo. (Eduardo Viveiros de Castro)
Nove anos separam a realizao da primeira e da ltima en-trevista aqui reunidas. Muito tempo para uma vida, pouco tem-po para uma obra. Mas no para a obra de Eduardo Viveiros deCastro, que viveu nesses mesmos anos um perodo de notvelflorescimento. Perodo em que foi traada a reflexo sobre operspectivismo amerndio, essa singularidade da imaginaoconceitual dos povos da Amaznia e qui de toda a Amrica
'2=+4-.(G4*4O+=.F
+=4,-Yh:-D-i
Apresentao
-
]" # $ % # & ' % (
indgena. Reflexo que redundou na busca de novas ferramentaspara a produo e a expresso do saber antropolgico. Isso por-que sua inteno afetar antropofagicamente, diremos estesaber pelos saberes dos amerndios, pr em xeque a supremaciado pensamento ocidental-moderno fazendo-o experimentaroutras ontologias, outras epistemologias e tambm outrastecnologias.
Sinto-me privilegiado, em primeiro lugar, por ter acompa-nhado de perto e de longe esse florescimento. Ao longo dessesanos, fui um leitor entusiasta e assduo dos textos de Eduardo,alm de aluno seu em cursos de ps-graduao na USP e noMuseu Nacional (UFRJ), onde ensina antropologia desde o finaldos anos 1970. E isso no apenas porque estes textos e estes cur-sos fomentaram a minha formao como etnlogo americanista,mas tambm porque sempre entrevi ali uma reviravolta no pen-samento, no sentido mais largo do termo. Sinto-me privilegia-do, alm disso, por ter participado, junto a amigos e colegasqueridos, de algumas das entrevistas aqui reunidas, dentre elas,a que abre esta coletnea, realizada em dezembro de 1998 paraa revista Sexta Feira, e a que a fecha, realizada em agosto de 2007,especialmente para este volume.
No cabe a mim apresentar aqui Eduardo Viveiros de Cas-tro. Tampouco fazer um balano de sua obra. Mais interessanteseria deixar-me contaminar pelo esprito da conversa que atra-vessa as pginas que seguem e seguir num fluxo de conexes eassociaes. Diferente de um texto escrito para ser um livro ouum artigo, e que deve contar com uma determinada hierarquiade idias, uma entrevista abre espao para uma maior experi-mentao. Nela, o autor fala de coisas inesperadas, por vezesfora do alcance usual de seu campo de reflexo, faz aflorarinsights pouco provveis, enuncia dvidas e incertezas, atinge ed forma a aspectos menores e por vezes irrefletidos de seupensamento. A entrevista rompe com o regime monolgico pr-
-
!a
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
prio ao registro escrito e problematiza a idia de autoria. Permi-te a conformao de um outro tipo de texto, uma espcie detranscrio do pensamento que se inscreve na ordem daoralidade. Por isso, possibilita ao autor em questo fazer sua obravariar, produzir verses distintas sobre suas prprias formula-es. (Note-se, alis, que as entrevistas aqui includas foram re-vistas, ou melhor, reimaginadas por Viveiros de Castro. Ou seja,estamos diante de verses de verses.)
Uma entrevista poderia ser simplesmente o traado de umdevir, escreve Gilles Deleuze em seus Dilogos com ClaireParnet. Ou ainda, o objetivo no responder s questes, sairdelas. Uma entrevista permite que o autor revele no apenas assuas filiaes a tal ou tal teoria, a tal ou tal instituio, a tais outais modelos analticos e da por diante mas tambm, e sobre-tudo, as suas alianas demonacas, as suas conexes menosesperadas com entidades as mais estranhas.1 Nas pginas queseguem, Viveiros de Castro conta sobre a sua formao comoantroplogo americanista no Museu Nacional, discorre sobre asua leitura da obra de Claude Lvi-Strauss, em especial das Mi-tolgicas, disserta sobre o estado da arte da etnologia indgena,de onde fez brotar o conceito de perspectivismo, inspirando-sea posteriori na filosofia de Gilles Deleuze. Acrescenta, ademais,novos dados etnogrficos s suas teses, testando seus limites ealcances, refinando conceitos. E jamais deixa de conectar todaessa reflexo americanista e amerndia com os estudos da cin-cia e da tecnologia, com o problema do Estado e do contra oEstado, com as polticas culturais do Ministrio de Gilberto Gil,com a poesia e a contra-cultura. Entre tantos trnsitos, confes-sa sua admirao profunda pelo movimento tropicalista nosanos 1960, do qual contemporneo, flerta com pensamentoslibertrios, como o de Hakim Bey, reencontra em Joo Guima-res Rosa a cosmopoltica perspectivista, problematiza a idiade direito autoral e de propriedade intelectual luz das novas
paula_ordonhes
-
!!
" # $ % # & ' % (
revolues tecnolgicas, e indaga sobre os caminhos do plane-ta e do meio ambiente num tempo acelerado de desenvolvimen-to e crescimento econmico.
Antropologia, antropofagiaUma conexo j suspeitada que rasga todas essas pginas
aquela que Viveiros de Castro faz entre seu pensamento e a An-tropofagia de Oswald de Andrade. O perspectivismo a reto-mada da Antropofagia oswaldiana em outros termos, diz ele aLuisa Elvira Belaunde quando esta lhe pergunta, em entrevistapara a revista Amazona peruana, sobre o potencial poltico doconceito, em especial sobre a resistncia de ndios e no-ndioscontra a sujeio cultural na Amrica Latina aos paradigmaseuropeus e cristos. A antropofagia foi a nica contribuio re-almente anti-colonialista que geramos, contribuio queanacronizou completa e antecipadamente o clebre toposcebrapiano-marxista sobre as idias fora do lugar, comenta aPedro Cesarino e Sergio Cohn, da revista Azougue, ao discorrersobre as reflexes meta-culturais modernistas que desemboca-ram dcadas depois no tropicalismo e em outras tentativas dealiar o erudito ao popular, a tradio tecnologia, recusandoassim um projeto nacional monoltico.
No seria exagero afirmar que as teses antropolgicas deViveiros de Castro desenvolvem e redimensionam nem sem-pre intencionalmente muitas das intuies contidas no Ma-nifesto Antropfago que Oswald de Andrade lanara em 1928.Viveiros de Castro como que estende o projeto oswaldiano, essarecusa de modelos estticos, ticos e polticos forjados pelomundo ocidental-moderno, essa revoluo caraba capaz dereverter o vetor colonial e indigenizar nosso imaginrio.
Lembremos que Oswald de Andrade tentou, ao longo de suavida, transpor as idias de seus manifestos Poesia Pau-Brasil eAntropofagia para ensaios com visadas mais propriamente fi-
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!5
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
losficas. Buscou extrair de suas intuies poticas conceitua-lizaes filosficas. Em 1951, aos 60 anos, ele redigiu o ensaio Acrise da filosofia messinica, em que defendia a reintegraoda vida selvagem na civilizao industrial e a emergncia de umhomem novo, o homem natural tecnizado. Valendo-se detextos marxistas, da psicanlise e tambm de obras antropol-gicas, propunha uma concepo de mundo antropofgica ba-seada na sntese dialtica entre o mundo selvagem e o mundocivilizado, entre o popular e o erudito, entre a liberdade e a tc-nica, e que vai de encontro s filosofias e religies da transcen-dncia e s formas de organizao sociopoltica baseadas noassim chamado patriarcado. Tais formulaes teriam continui-dade em um texto posterior, A marcha das utopias, publicadopostumamente em 1966, no qual se pode observar umdistanciamento em relao ao marxismo ortodoxo, sobretudopor conta da valorizao do socialismo utpico e mesmo de umpensamento anarquista-libertrio.
As fortes intuies contidas nos aforismos de ambos os ma-nifestos no alcanaram nesses ensaios um sistema propria-mente filosfico. Oswald manejava, ademais, conceitos antro-polgicos obsoletos e equivocados por exemplo, o dematriarcado, como figura em Morgan e Bachofen , importa-dos de um conjunto de teorias evolucionistas, presas a proje-es incessantes de noes ocidentais-modernas sobre o uni-verso indgena. Embora tenha gerado insights instigantes, aobuscar transpor seus manifestos para teses acadmicas, Oswaldemaranhou-se num mar de teorias por vezes desconexas, dis-tanciando-se cada vez mais de sua fonte de inspirao, o mun-do tupi-guarani. Diferente de Mrio de Andrade, que se entre-gou a veredas propriamente etnogrficas e pesquisa biblio-grfica sobre populaes amerndias, estas ecoando emMacunama, Oswald manteve-se sob uma atitude contemplativa,mas sem jamais perder a sua inconseqncia visionria (uso
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!V
" # $ % # & ' % (
aqui a expresso de Viveiros de Castro em sua fala antropofgicapara a revista Azougue).
Com Viveiros de Castro vemos desenvolver-se as intuiespoticas do Manifesto Antropfago, bem como a transposi-o desse regime literrio para um universo a um s tempo filo-sfico e antropolgico, j que a filosofia em questo , antes detudo, a filosofia dos povos amerndios, uma filosofia distanteportanto dos cnones filosficos. No se trata aqui de insistirem uma filiao entre Viveiros de Castro e Oswald de Andrade.O primeiro no escreveu Arawet, os deuses canibais, nos anos1980, para continuar o Manifesto; tampouco elaborou suas re-flexes sobre o perspectivismo para corrigir os equvocos de Acrise da filosofia messinica. Entre o poeta paulistano e o an-troplogo carioca possvel, sim, entrever mais uma dessas ali-anas demonacas, que fazem florescer um parentesco de tiporizomtico. Viveiros de Castro e Oswald de Andrade encontram-se no registro antropofgico. O ponto que apenas o primeiroteve oportunidade de se defrontar diretamente com os antro-pfagos em pessoa, os verdadeiros autores do conceito deantropofagia, os povos tupi-guarani ou, de modo mais geral, ospovos amerndios.
Perspectivismo e multiplicidade autoralViveiros de Castro viveu com um povo tupi-guarani amaz-
nico, os Arawet, e encontrou entre eles aproximaes e afasta-mentos em relao aos Tupinamb da costa brasileira no tempoda Conquista, que levavam seus inimigos de guerra ao moqum.Foi ento que pde constatar que a antropofagia , como j haviaproposto Oswald de Andrade, debruado na literatura informati-va do sculo XVI, muito mais do que mera refeio cerimonial.Trata-se de uma metafsica que imputa um valor primordial alteridade e, mais do que isso, que permite comutaes de pontode vista, entre eu e o inimigo, entre o humano e o no-humano.
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!W
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Isso no seria um atributo exclusivo dos povos tupi-guarani, po-dendo ser reconhecido como um modo amerndio de pensar eviver. Eis ento o que foi chamado, a partir de um longo mergu-lho na bibliografia americanista, de perspectivismo amerndio.
Perspectivismo um conceito antropolgico, parcialmenteinspirado na filosofia de Gilles Deleuze e Felix Guattari, elabo-rado em um dilogo com Tania Stolze Lima dedicada o estudodo conceito yudj de ponto de vista , e finalmente posto pro-va por um exerccio comparativo, tendo em vista um conjuntode etnografias americanistas. Mas o perspectivismo um con-ceito antropolgico, sobretudo porque extrado de um con-ceito indgena, porque a antropologia indgena por exceln-cia. Antropologia baseada na idia de que, antes de buscar umareflexo sobre o outro, preciso buscar a reflexo do outro e,ento, experimentarmo-nos outros, sabendo que tais posies eu e outro, sujeito e objeto, humano e no-humano so ins-tveis, precrias e podem ser intercambiadas. As ontologias eepistemologias amerndias incitam-nos, assim, a repensar asnossas prprias ontologias e epistemologias. Tarefa que no estjamais imune ao perigo j que submete nossas certezas ao ris-co. Se tudo humano, tudo perigoso, conclui Viveiros deCastro a respeito do perspectivismo na entrevista a J. C. Royoux,co-autor do projeto Cosmograms. Se todos os seres podem sersujeitos, podem ocupar a posio de sujeito, j no mais pos-svel estabelecer um s mundo objetivo. Em vez de diferentespontos de vista sobre o mesmo mundo, diferentes mundos parao mesmo ponto de vista.
O perspectivismo amerndio afeta ento a antropologia, quese torna ela tambm perspectivista. A antropofagia invade en-to o pensamento domesticado, selvagizando-o. Que significa-ria uma antropologia a um s tempo perspectivista eantropofgica? Antes de tudo, o reconhecimento dos outroscomo antroplogos em potencial, o estabelecimento de uma
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!X
" # $ % # & ' % (
igualdade epistemolgica entre ns e eles. Isso reenvia para a idiade uma antropologia simtrica, como proposta por BrunoLatour. A antropologia simtrica permite no apenas tratar osmodernos ou euroamericanos cientistas, por exemplo comonativos, mas tambm conceber todo nativo em sua capacidadede fabricar teorias sobre si e sobre outrem. Nativos e antroplo-gos ressurgem como posies precrias, reversveis eintercambiveis, assim como o so humanos e no-humanospara o perspectivismo amerndio.
Inspirado nessa antropologia simtrica de Latour, na an-tropologia reversa de Roy Wagner, nas experincias de pen-samento de Marilyn Strathern, Viveiros de Castro, agora emparceria com Marcio Goldman, retoma a forma do manifesto,pendurando na internet, em 2005, o Manifesto Abaet. A pala-vra Abaet revela nos dicionrios diferentes origens, da expres-so tupi ava ete, homem honrado, gente de verdade, at overbo abaetar que, em Pernambuco, significa revoltar-se, in-dignar-se. Seja como for, a Rede Abaet de Antropologia Sim-trica, inaugurada por este manifesto, sobretudo uma tentativade romper o grande divisor entre a etnologia indgena e a antro-pologia das sociedades complexas, no para propor uma snte-se dialtica entre o selvagem e o moderno, como props Oswaldde Andrade em sua incurso pela filosofia, mas para promoverexperincias de pensamento, para fazer dialogar saberes ind-genas e euroamericanos, conferindo eqidade epistemolgicaaos primeiros e revelando os aspectos menores nos segundos. sobre este assunto que ambos, Viveiros de Castro e Goldman,discorrem na entrevista concedida a um coletivo de jovens an-troplogos e publicada na revista Cadernos de Campo.
A melhor maneira de fazer funcionar essa rede, que promo-ve discusses antropolgicas para alm do ambiente de especia-lizao caracterstico do cenrio acadmico atual, foi a criao,na internet, de uma pgina wiki, na qual possvel desenrolar
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!f
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
discusses e produzir textos coletivos. No sistema wiki, todapessoa que acessa a pgina pode mudar o contedo do que l, etodas as outras pessoas que tm acesso podem ver essas modi-ficaes. O wiki Abaet (http://abaete.wikia.com) seguiu o exem-plo do wiki Amazone (http://amazone.wikia.com), idealizadopor Viveiros de Castro em 2004. Ali ele disponibilizou partes deum livro em preparao sobre o perspectivismo amerndio soba forma de um texto-piloto, A ona e a diferena. Seu objetivoera substituir o mar de citaes, do qual composto um texto,por um processo de autoria coletiva capaz de dar margem a umaobra aberta. Viveiros de Castro submeteu seu texto para que fossecontinuado por outros, diluindo sua posio de autor na cria-o de um coletivo de autores, o Amazone. O mesmo se passacom Abaet, o coletivo de autores do texto-piloto Simetria,reversibilidade e reflexividade, no qual lemos que estamos di-ante de um objeto discursivo em situao de interpolao,enunciado por uma multiplicidade autoral antes que por auto-res mltiplos. O dilogo que, numa entrevista substitui o mon-logo, explode aqui nessa experincia de dissoluo das fronteirasentre os interlocutores. (Tal experincia discutida no nico tex-to monolgico inserido nesta coletnea, justamente sobre o pro-jeto Amazone.)
Vemos ento a transposio da antropofagia para o proces-so de produo do texto (e do autor do texto) e sua aliana coma tecnologia. Amazone e Abaet revelam-se, nesse sentido, umamquina antropofgica, um coletivo sempre por fazer e sem tr-mino possvel, visto que mantido pela incessante aliana entreautores, que no deixa de ser um saque sucessivo de idias. Avalorizao da rede em detrimento do grupo, da multiplicidadeautoral em detrimento do copyright sinaliza essa apropriaode ferramentas modernas e essa contaminao dos modos deproduo de textos e conhecimentos pelos modos indgenas ouminoritrios. Isso tudo, claro, revela o seu potencial poltico.
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!e
" # $ % # & ' % (
Brasil em fugaH um outro eco de Oswald de Andrade que aparece nas
entrevistas aqui reunidas. Este diz respeito ao Brasil. Nuncafomos catequizados, ressoa o Manifesto, e no entanto explodi-ram tantas interpretaes do Brasil que alegam justamente ocontrrio, qual seja, que vivemos constantemente o drama daaclimatao de modelos importados, fora do lugar, a tragdiade uma modernizao improvvel ou, na melhor das hipteses,uma mestiagem que muitas vezes rima mulatez comembranquecimento. Viveiros de Castro afirma nas primeirasentrevistas que, descontente com essas interpretaes, resolveufugir do Brasil e buscar o seu negativo no mundo amerndio.Fugir ainda no sentido deleuziano da palavra, ou seja, recusarum modelo homogneo e unvoco de Brasil para encontrar umBrasil menor e mltiplo. Fugir para encontrar populaes queapesar de viverem no Brasil, vivem a seu modo; que embora si-tuadas no Brasil, situam o Brasil no seu pensamento e na suaexperincia. Devoram, pois, o Brasil.
Viveiros de Castro retorna, tambm a seu modo, ao Brasil,desta vez o pas da Cobra Grande, pleno de cromatismos, quese redescobre indgena, que se descobre outro. Se o Brasil foidesindigenizado em suas interpretaes mais clebres, se seushabitantes indgenas foram por longo perodo condenados aodesaparecimento, esse movimento passa a conhecer nos lti-mos tempos o seu revs. Na entrevista ao Povos Indgenas noBrasil 2001-2005, compndio do Instituto Socioambiental, Vi-veiros de Castro ressalta que o Brasil est se reindigenizando,ou melhor, a sua poro indgena poro minoritria estdeixando o fundo para compor a figura. E isso no apenas por-que ser ndio pode ser um bom negcio, tendo em vista a atualexploso das etnogneses, das lutas pela terra, do mercado deprojetos e dos novos culturalismos, mas sobretudo porque o quej era indgena e permanecia encoberto por um verniz cristo e
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!g
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
moderno passa agora a se manifestar sem pudor, com mais or-gulho. E nesse movimento de desenvernizamento toda a so-ciedade brasileira que se descobre indgena. Afinal, provoca oentrevistado, no Brasil todo mundo ndio, exceto quem no .
Essa reindigenizao do pas, que no deixa de ser umadescolonizao de nosso imaginrio, inverte a direo do pro-cesso de transfigurao tnica vislumbrada por Darcy Ribeiro,esse autor talvez menor no quadro das grandes interpretaesdo Brasil, mas que soube crucialmente divisar a maloca indge-na no fundo da paisagem da casa grande e senzala. Viveiros deCastro no hesita em falar de uma retransfigurao tnica e,apoiado em Meu Tio, o Iauaret, conto de Guimares Rosa, lidocomo uma transformao do Manifesto Antropofgico, entrevo paralelismo entre o devir-animal de um ndio esse lugar-co-mum do perspectivismo e o devir-ndio de um sertanejo esseaspecto escamoteado da brasilidade. Coube a Darcy Ribeiroatentar para a metamorfose inelutvel de tal e tal ndio em n-dio genrico, e deste em bugre, brasileiro que nem ns. Agora a vez de atentar para o reverso de tudo isso, a metamorfoseirresistvel do bugre e do ndio genrico no tal ndio de tal lugar,que fala tal lngua (mesmo que ela tenha de ser ensinada porum professor branco) e que j no quer ser definido como talpor tal antroplogo ou tal rgo tutelar.
Reindigenizao do Brasil. Projeto poltico ou mera utopia?At que ponto possvel ser otimista, tendo em vista uma con-juntura que transforma a cultura em mercadoria, a liberdadeem direito, o conhecimento em propriedade? So esses os te-mas que encerram a ltima entrevista, toda ela voltada para arelao entre antropologia e poltica (ambas tomadas no maisdo termo). Oswaldianamente, talvez fosse preciso entender queum projeto poltico no pode prescindir da utopia, assim comoos fatos no podem prescindir da poesia. A nica resposta queno h respostas fceis. E o importante no responder as ques-
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
!]
" # $ % # & ' % (
tes, sair delas. O antroplogo, sustenta Viveiros de Castro, no um engenheiro social, tampouco um arquiteto de identida-des, o que ele pode e deve fazer emprestar a sua imaginaopara a semeadura de novos possveis; e essa sua imaginao sealimenta da imaginao de Outrem. Reside a seu potencialdescolonizador, subversivo.
-
5a
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Advertncia
-
5!
" # $ % # & ' % (
H%'."678'6%./9/"9'%(.6".$8(&'%
-
55
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Com a possvel exceo de alguns poemas e de certas equa-es matemticas, no h praticamente nenhum texto que nopossa ser reescrito para melhor. (Ou, claro, para pior.) Todaoportunidade de republicao provoca reviso, mais ou me-nos drstica conforme o juzo que se tem sobre a qualidade daobra que se viu assim contemplada. A nica desculpa convin-cente que tem um autor vivo para no mexer em nada a von-tade de no se mexer ele mesmo: a preguia, disposio, de res-to, respeitabilssima. A menos que o dito autor esteja sincera-mente satisfeito com o que fez, ou que j se pense como tendoentrado para a histria.
No meu caso, nem uma coisa, nem outra. Sequer a preguiaconseguiu me convencer. Os textos que se seguem so entrevis-tas, o gnero menos potico ou matemtico que se possa ima-ginar. Nenhuma forma compele mais aquele que v suas pala-vras publicadas reformulao que a entrevista. Aproveitei a
Advertncia
paula_ordonhes
-
5V
" # $ % # & ' % (
deixa no caso, o convite e a anuncia de Sergio Cohn paraforjar estas entre(re)vistas, textos por assim dizer fictcios, vriasvezes desprovidos de qualquer valor documental: eles so ver-ses modificadas de entrevistas que, em suas verses originaispublicadas, j eram o resultado de uma edio (de minha parte)de transcritos brutos (ou pr-editados pelo entrevistador) degravaes que, por sua vez... O leitor v onde quero chegar.
As presentes entre(re)vistas so, assim, essencialmente arti-gos acadmicos em formato dialgico e em linguagem um pou-co mais relaxada que a de praxe. claro que semelhantereestipulao da natureza dos textos aqui reunidos no deixa deser uma manobra ligeiramente desonesta, de certo modo injus-ta com os entrevistadores, que tiveram suas perguntas mantidascomo no original (ou quase!) ao passo que as respostas torna-ram-se aquelas que eu daria hoje. Mas afinal, as circunstnciasde origem dos textos no eram as de um interrogatrio policial,de uma apurao jornalstica ou de um debate poltico-intelec-tual, e sim as de simples contextos de incitao reflexo. Ne-nhuma razo portanto para eu ser fiel ao que quer que fosse,exceto ao que penso agora. E alis, a quem interessaria uma in-formao fiel sobre meu estado mental de outrora? No a mim,sobretudo.
Gostaria de registrar meus mais sinceros agradecimentos aoscolegas que tiveram o interesse e a pacincia de me acompa-nhar co-autoralmente nestas entre(re)vistas, especialmente aRenato Sztutman um deles , pela reviso da reviso da revi-so (e a apresentao) e a Marcio Goldman, que gentilmenteconcordou em publicar aqui uma entrevista que assinamosjuntos, onde sua participao parece-me bem mais importanteque a minha.
Eduardo Viveiros de CastroRio de Janeiro, 11 de maro de 2008
paula_ordonhes
paula_ordonhes
paula_ordonhes
-
5W
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
O chocalho do xam um acelerador de partculas
-
5X
" # $ % # & ' % (
H%'.'"#8&%.(T&7&E8#Z.(9K/8#8.#8($9E"#&%
".(&"K9%.E8''8(.5
-
5f
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Qual era o seu ideal de antropologia quando voc comeou aestudar as sociedades indgenas?
Eu queria fazer uma etnografia clssica de um grupo ind-gena. Meu problema era entender aquelas sociedades em seusprprios termos, ou seja, em relao s suas prprias relaes,o que obviamente inclui suas relaes com a alteridade social,tnica, cosmolgica
Acho que existem dois grandes paradigmas que orientam aetnologia brasileira. De um lado, a imagem antropolgica daSociedade Primitiva; de outro, a tradio derivada de uma Te-oria do Brasil, de que a obra de Darcy Ribeiro talvez o melhorexemplo. O ttulo de um livro de Roberto Cardoso de Oliveira, Asociologia do Brasil indgena, expressivo dessa segunda orien-tao: o foco o Brasil, os ndios so interessantes em relao
H*@:0>+)-.-,0D0=+:O2=42.=+
=+.,21034+.(2\4+dS20,+=jO2,-.W.d.$-,Y-Z.2O.!]]]i
O chocalho do xam umacelerador de partculasH%'.'"#8&%.(T&7&E8#Z.(9K/8#8.#8($9E"#&%".(&"K9%.E8''8(
-
5e
" # $ % # & ' % (
2.=+
]]]i
ao Brasil, na medida em que so parte do Brasil. Nada a objetar,tal sociologia do Brasil indgena uma empresa altamente res-peitvel, que resultou em trabalhos extremamente importan-tes. Mas essa no era a minha praia. A minha praia, ou campo,ou mato, era a mal-chamada sociedade primitiva, meu focoeram as sociedades indgenas, no o Brasil: o que me inte-ressava eram as sociologias indgenas. A minha praia eram asantropologias de Lvi-Strauss, de Pierre Clastres, e tambm asantropologias de Malinowski, de Evans-Pritchard
Em que p estavam os estudos sobre a Amaznia indgena napoca de suas primeiras investigaes etnolgicas?
Convm lembrar que boa parte daquela Amaznia que veioa ser estudada nos anos 1970 no existia do ponto de vistageopoltico, tendo sido incorporada sociedade nacional a par-tir do boom desenvolvimentista iniciado na dcada. No era aAmaznia, mas o Brasil Central que estava ento na berlinda,graas aos trabalhos de Curt Nimuendaju da dcada de 30 e 40,que tinham sido recebidos com grande interesse por RobertLowie e Claude Lvi-Strauss. Este ltimo estava-se no apogeudo estruturalismo, nas dcadas de 1960 e 1970 colocou o Bra-sil Central na pauta terica da antropologia. O grupo que estu-dou o Brasil Central, ligado a David Maybury-Lewis, foi o queteve o maior nmero de pessoas trabalhando coordenadamenteem uma mesma rea cultural da Amrica do Sul; uma rea, ali-s, situada inteiramente em territrio brasileiro. Quando eu eraestudante, na dcada de 1970, a impresso que se tinha era quea nica coisa interessante que restava em etnologia indgena erao Brasil Central. Eu no tinha nem muita clareza de que a Amaz-nia existisse como possibilidade de trabalho. Em parte, porqueestava lendo maciamente teses e livros dos meus professores eassociados deles, que eram todos sobre grupos J, Bororo e tal.Todo o meu trabalho posterior foi muito marcado por um es-
-
5g
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
crever contra a etnologia centro-brasileira contra no nosentido polmico ou crtico, mas contra como um a partir de,como figura que se desenha contra, isto , sobre, um fundo: con-tra a paisagem em que se deu minha formao.
O que mais o impressionou no campo com os Yawalapt do AltoXingu, ento sua primeira experincia de pesquisa em umasociedade indgena?
A primeira coisa que me chamou a ateno, no Xingu, foique aquele sistema social era muito diferente dos regimes doBrasil Central. Uma preocupao que me acompanha desdeento tem sido a de como descrever uma forma social que notenha como esqueleto institucional qualquer espcie de dispo-sitivo dualista, considerando-se que minha imagem bsica desociedade indgena era a de uma sociedade com metades etc.Aquele era um tempo em que as chamadas oposies binriaseram vistas como a grande chave de interpretao de qualquersistema de pensamento e ao indgenas. Ficou claro para mimque o que acontecia no Xingu no podia ser reduzido oposi-o, to durkheimiana ou para dizermos de uma vez: tometafsica , entre o fsico e o moral, o natural e o cultural, obiolgico e o sociolgico. Ao contrrio, havia uma espcie deestranha interao, algo como uma entre-indeterminao en-tre essas dimenses muito mais complexa do que sonhavam osnossos dualismos.
O que me chamou exemplarmente a ateno foi o comple-xo da recluso pubertria do Alto Xingu, em que os jovens tm ocorpo literalmente fabricado, imaginado por meio de remdi-os, de infuses e de certas tcnicas mais invasivas como aescarificao. Em suma, tudo aquilo me parecia um signo deque no havia distino entre o corporal e o social: o corporalera social e o social era corporal. Portanto, tratava-se de algodiferente das oposies familiares entre cultura e natureza, cen-
-
5]
" # $ % # & ' % (
tro e periferia, interior e exterior, ego e inimigo. Minha pesquisacom os Yawalapti foi um tipo de indagao sobre estas ques-tes, embora eu estivesse fazendo muito mais um aquecimentoetnolgico do que uma pesquisa nos conformes.3
Como o tema do corpo surgiu como questo terica fundamen-tal nos seus estudos iniciais?
Quando eu cheguei no Xingu, estava com os dois ps plan-tados em nossa comum tradio de pensamento (reforada porminha educao jesutica), que ensinava que o corpo era/ umacoisa insignificante, em todos os sentidos desta palavra. NoXingu, ao contrrio, a maioria das coisas que consideramoscomo mentais, abstratas, achavam-se escritas concretamenteno corpo. O antroplogo que primeiro efetivamente tematizoua questo da corporalidade na Amrica do Sul foi Lvi-Strauss,nas Mitolgicas, uma obra monumental sobre a lgica das qua-lidades sensveis, qualidades do mundo apreendidas no corpoou/e pelo corpo: cheiros, gostos, cores, texturas, propriedadessensoriais e sensveis. Ele ali demonstrava como era possvel aum pensamento articular proposies complexas sobre a reali-dade a partir de categorias da experincia concreta.
Em 1981 voc conheceu os Arawet do Par, com os quais rea-lizou sua pesquisa de campo mais longa. O que mais te atraiuem comear uma pesquisa com esse grupo Tupi-Guarani con-temporneo, parentes (distantes) dos Tupinamb, famosos pe-las suas prticas antropofgicas?
Os Tupi, quando comecei a estudar antropologia, eram vis-tos meio como se fossem povos do passado, extintos ouaculturados; era como se no se houvesse mais o que se fazerem termos de pesquisa etnolgica junto a eles, que no fossereconstruo histrica ou sociologia da transfigurao tnica.S que, na dcada de 70, com a abertura da Transamaznica,
-
Va
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
alguns grupos tupi-guarani isolados do Par foramcontatados: Asurin, Arawet, Parakan... Obviamente, o quechamava a ateno no material tupi-guarani clssico era o fa-moso canibalismo guerreiro tupinamb, mas eu no tinha amenor idia de que fosse encontrar algo do gnero entre osArawet. Estava indo para os Arawet porque queria trabalharjunto a um grupo pequeno, e no estudado. Por acaso, aquelegrupo era tupi.
A pesquisa entre os Arawet foi complicada, porque eles ti-nham cinco anos de contato, e cinco anos muito pouco. Ogrupo ainda est desorientado, ainda est administrando a re-voluo social, cosmolgica, e mais que tudo, a catstrofedemogrfica, desencadeada pelo contato. Eles eram selva-gens para valer, uma gente dramtica e enigmtica, ao mesmotempo gentil e brusca, sutil e exuberante; eram muito diferen-tes dos povos do Alto Xingu, que me haviam impressionado pelaetiqueta, o refinamento, a compostura quase solene.
Ento, como foi sua primeira experincia de contato com osArawet?
Eles estavam elaborando a experincia deles conosco. Tes-tavam todos os modos possveis. No sabiam ainda muito bemo que eles iriam fazer com aqueles caras, os brancos. Eu fui umadas primeiras cobaias deles. Tentaram comigo vrios mtodos,digamos assim, de administrao da alteridade. Ento foi umapesquisa psicologicamente complexa, mas me dei muito bemcom eles.
Eles no tentaram te afogar, como faziam os Tupinamb comos portugueses no sculo XVI?
No, no me afogaram, pelo menos no daquele jeito poisacho que vocs esto se referindo a outra coisa, anedota deLvi-Strauss sobre os espanhis e os ndios das Antilhas. Embo-
-
V!
" # $ % # & ' % (
ra para eles eu sempre tenha sido uma espcie de enigma; im-presso, alis, recproca. A pesquisa toda foi contrapontuadapela investigao indgena de minha natureza. Claro que elesj conheciam branco desde muitos anos antes do contato oficial.Os Arawet so uma daquelas sociedades que devem ter tidovrios encontros mais ou menos espordicos com brancos nosltimos sculos, se que eles no so remanescentes de grupostupi que tiveram contato direto com misses crists ou coisaparecida. Eles esqueceram muita coisa, mas nem tudo. Vocpercebe que eles sabem muito mais sobre a gente do que apa-rentam (ou fingem) saber.
A pesquisa interessava a eles, porque, como eu no tinhauma grande questo terica a me guiar desde o incio, segui osinteresses dialgicos dos Arawet. No tinha questo, ento tivede ir acompanhando o que interessava a eles e o que eu conse-guia entender, quer dizer, flutuei inteiramente ao sabor da cor-rente de nossa interao.
De que modo a experincia com os Arawet inspirou a elabo-rao da noo de perspectivismo amerndio?
Meu livro sobre os Arawet est cheio de referncias a umperspectivismo, a esse processo de pr-se (ou achar-se posto)no lugar do outro, que me apareceu, inicialmente, no contextoda viso que os humanos tm dos Ma, os espritos celestes, ereciprocamente. Propus, a partir dali, que o canibalismo tupi-guarani poderia em geral ser interpretado como um processoem que se assume a posio do inimigo. Mas este era umperspectivismo ainda meu, o conceito era meu e no dos ndi-os. Est l, mas sou eu quem formula: o canibalismo tem a vercom a comutao de perspectivas etc.
Uns dez anos mais tarde, Tnia Stolze Lima, (ento) minhaorientanda e (sempre) amiga, comeava a escrever sua tese so-bre os Juruna, a qual desembocava em uma extensa discusso
-
V5
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
sobre o relativismo juruna. Foi o dilogo com Tnia que me fezvoltar a pensar na questo do perspectivismo (ou a pensar emminhas questes em termos de um conceito de perspectivismo).A tese de Tnia resultou em um trabalho esplndido, uma dasetnografias mais originais do pensamento indgena at agoraproduzidas em nossa disciplina.
Enfim, l pelos idos de 1994-95, Tnia e eu passamos a con-versar sistematicamente sobre o material que ela estava anali-sando. Foi ento que comeamos a definir esse complexoconceitual do perspectivismo, a concepo indgena segundo aqual o mundo povoado de outros sujeitos, agentes ou pessoas,alm dos seres humanos, e que vem a realidade diferentemen-te dos seres humanos.
Como foi possvel passar das manifestaes particularesregistradas por essas etnografias recentes construo de ummodelo genrico o perspectivismo amerndio?
Tal generalizao de minha exclusiva irresponsabilidade:Tnia no tem culpa de nada aqui. Meu interesse era identificarem diversas culturas indgenas elementos que me permitissemconstruir um modelo, ideal em certo sentido, no qual o con-traste com o naturalismo caracterstico da modernidade euro-pia ficasse bem evidente. Obviamente, esse modelo se afastamais ou menos de todas as realidades etnogrficas que o inspi-raram. Por exemplo, os Arawet no formulam a idia, tantoquanto eu saiba, de que certas espcies animais vem o mundode um jeito diferente do nosso. Seja como for, o fenmeno queTnia encontrou entre os Juruna (seria mais correto dizer: afenomenologia dos Juruna que Tnia soube captar) era muitocomum na Amaznia, embora a imensa maioria dos etngrafosno tivesse tirado grandes conseqncias dele.
Eu tinha a impresso de que se podia divisar uma vasta pai-sagem, no apenas amaznica, mas panamericana, onde se as-
-
VV
" # $ % # & ' % (
sociavam o xamanismo e o perspectivismo. Era possvel perce-ber tambm que o tema mtico da separao entre humanos eno-humanos, isto , entre cultura e natureza, para usarmoso jargo consagrado, no significava, no caso indgena, a mes-ma coisa que em nossa mitologia evolucionista. A proposiopresente nos mitos indgenas : os animais eram humanos e dei-xaram de s-lo, a humanidade o fundo comum da humanidadee da animalidade. Em nossa mitologia o contrrio: os humanosramos animais e deixamos de s-lo, com a emergncia da cul-tura etc. Para ns, a condio genrica a animalidade: todomundo animal, s que alguns (seres, espcies) so mais ani-mais que os outros: ns,os humanos, certamente somos os me-nos animais de todos e esse o ponto, como se diz em ingls.Nas mitologias indgenas, muito ao contrrio, todo mundo hu-mano, apenas alguns desses humanos so menos humanos queos outros. Vrios animais so muito distantes dos humanos, masso todos ou quase todos, na origem, humanos ou humanides,antropomorfos ou, sobretudo, antropolgicos isto , comuni-cam-se com(o) os humanos. Tudo isso vai ao encontro da atitudeque se costuma chamar de animismo, a pressuposio ou in-tuio pr-conceitual (o plano de imanncia, diria Deleuze) deque o fundo universal da realidade o esprito.
Voc poderia nos dar um exemplo de como opera esse pensa-mento perspectivista na vida cotidiana de grupos indgenas?
Um exemplo mostra bem a atualidade e a pregnncia domotivo perspectivista. L por 1996, o filho de Raoni, lder dosKayap Mentuktire, morreu, creio que na aldeia dos Kamayurdo Alto Xingu, onde ele se encontrava em tratamentoxamanstico. Tinha sido enviado pela famlia para ser tratadopelos xams de l. Esse rapaz morreu, segundo os mdicos bran-cos, de um ataque epilptico. Bem, durante uma crise, algumtempo antes, ele havia matado dois ndios (no me recordo se
-
VW
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
em sua prpria aldeia, onde tinha ido passar um tempo entre asdiversas fases da cura xamanstica, ou na aldeia kamayur mes-mo). No demorou muito, ele mesmo morreu. A morte desserapaz entre os Kamayur virou notcia na Folha de So Paulo,que publicou uma reportagem sobre o clima de tenso inter-grupal suscitado pelo evento, com os Kayap acusando osKamayur de feitiaria. Parece que se comeou mesmo a falarem guerra entre os dois grupos; foi isso que comeou uma para-nia generalizada. A Folha, tendo sabido disso (sabe-se l como),mandou um reprter ao Xingu e fez uma matria.
Poucas semanas depois, Megaron, mentuktire que era en-to o Diretor do Parque do Xingu (e sobrinho uterino do Raoni),resolveu escrever uma carta para a Folha dizendo que no eranada daquilo que o reprter havia contado, e que os Kamayureram feiticeiros mesmo...
Acho fascinante isso de acusaes de feitiaria entre gruposindgenas no Xingu sendo ventiladas em cartas redao daFolha, esse jornal to fascinado pelo que h de mais moderno.Penso que essas coisas de mudana, de modernizao, de ps-modernizao, de globalizao, no querem dizer que os ndiosestejam virando brancos e que no haja mais descontinuidadesentre os mundos indgenas e o mundo global (que talvez fossemelhor chamar, por ora, de mundo dos Estados Unidos). Asdiferenas no acabaram, o que acontece que agora elas setornam comensurveis, coabitam no mesmo espao: elas naverdade aumentaram seu potencial diferenciante. No mesmojornal voc pode ler as platitudes acacianas do Sarney, a solrciade um mega-empresrio discorrendo sobre as propriedadesmiraculosas da privatizao, um cientista tentando explicar oBig Bang ao povo e Megaron acusando os Kamayur de feiti-aria! Tudo no mesmo plano, na mesma Folha. Bruno Latour,em seu Jamais fomos modernos, insiste com muita pertinnciasobre esse fenmeno.
-
VX
" # $ % # & ' % (
Pois bem. Megaron argumentava, em sua carta: O rapazmorreu porque foi enfeitiado pelos Kamayur. verdade queele matou duas pessoas antes de morrer, mas isso foi porque eleachou que estava matando animais; os pajs kamayur deramum cigarro para ele e ele achou que estava matando bicho. Quan-do voltou a si, viu que eles eram humanos e ficou muito triste.Esta uma explicao que recorre ao argumento perspectivista,essa coisa de ver gente como animal. Pois acontece que, se umapessoa comea a ver outros seres humanos como no-huma-nos, porque ela na verdade j no mais humana: isso signifi-ca que ela est muito doente, virando outra, e precisa de trata-mento xamanstico. Megaron diz, entretanto: foram os xamskamayur que enfeitiaram o rapaz e o desumanizaram, fazen-do-o ver os humanos como bichos, isto , fazendo-o compor-tar-se ele mesmo como se fora um bicho feroz. Pois uma dasteses do perspectivismo que os animais no nos vem comohumanos, mas sim como animais (por outro lado, eles no sevem como animais, mas como ns nos vemos, isto , comohumanos).
Eis assim que o perspectivismo no s est bem vivo, comopode ser utilizado em palpitantes argumentos polticos.
Em que medida esse modelo perspectivista pode ser estendi-do para todos os grupos amerndios, mesmo tendo em vista asprofundas diferenas entre eles? Como falar, por exemplo, emperspectivismo entre populaes J que no tm no xamanismouma prtica corrente?
Acabamos justamente de ver um membro de um grupo J,os Mentuktire, recorrendo a um argumento desse tipo! De qual-quer modo, mesmo que entre os povos centro-brasileiros nose diga, em geral, que os animais atuais so humanos, ou quecada animal v as coisas de um certo jeito etc. (a etnografia j ,a esse respeito, aparentemente menos rica que outras), a mito-
-
Vf
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
logia desses povos, como a de todos os amerndios, afirma que,no comeo dos tempos, animais e humanos eram uma coisa s(melhor dizendo, uma coisa s mltipla: contnua e heterog-nea ao mesmo tempo), e que os animais so ex-humanos, noque os humanos so ex-animais. Tal humanidade pretrita dosanimais nunca esquecida, porque ela nunca foi totalmentedissipada, ela permanece l como um inquietante potencial justo como nossa animalidade passada permanece pulsan-do sob as camadas de verniz civilizador. Alm disso, no pre-ciso ter xams para se viver em uma cosmologia xamanstica.(Os Mentuktire, recorde-se, estavam usando os xams dosKamayur.)
A idia de que os animais so gente, comum a muitascosmologias indgenas (talvez no a todas, pelo menos se a idia colocada nestes termos assim simplistas), no significa queesses ndios estejam afirmando que os animais so gente comoa gente. Todo mundo em seu juzo perfeito, e o dos ndios toou mais perfeito que o nosso, sabe que bicho bicho, gente gente; como diz Derrida em algum lugar, at os bichos sabemdisso. Mas sob certos pontos de vista, em determinados contex-tos, faz todo o sentido, para os ndios, dizer que alguns animaisso gente. O que significa isto? Quando voc encontra numaetnografia uma afirmao do tipo Os Fulanos dizem que asonas so gente, preciso ter claro que a proposio as onasso gente no idntica a uma proposio trivial ou analticado tipo as piranhas so peixes (isto , piranha o nome deum tipo de peixe). As onas so gente, mas so tambm onas,enquanto as piranhas no so peixes mas tambm piranhas...As onas so onas mesmo, mas tm um lado oculto que hu-mano. Ao contrrio, quando voc diz as piranhas so peixesno est dizendo que elas tm um lado oculto que peixe. Quan-do os ndios dizem que as onas so gente, isto nos diz algosobre o conceito de ona e tambm sobre o conceito de gente.
-
Ve
" # $ % # & ' % (
Quando eu digo que o pontode vista humano sempre oponto de vista de referncia
quero dizer que todo animal,toda espcie, todo sujeito
que estiver ocupando oponto de vista de referncia
se ver a si mesmo comohumano inclusive ns.
-
Vg
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
As onas so gente porque, ao mesmo tempo, a oncidade umapotencialidade das gentes, e em particular da gente humana.
E, alis, no devemos estranhar tanto assim uma idia comoos animais so gente. H vrios contextos importantes emnossa cultura nos quais a proposio inversa, os seres huma-nos so animais, vista como perfeitamente evidente. No isto que dizemos ou supomos, quando falamos do ponto devista da medicina, da biologia, da zoologia etc.? E, entretanto,considerar que os humanos so animais no nos leva necessa-riamente a tratar seu vizinho ou colega como trataramos umboi, um badejo, um urubu, um jacar. Do mesmo modo, acharque as onas so gente no significa que se um ndio encontrauma ona no mato ele vai necessariamente trat-la como eletrata seu cunhado humano. Tudo depende de como a ona otrate... E o cunhado...
O que voc quer dizer exatamente quando afirma que operspectivismo no um relativismo?
Foi no dilogo com Tnia que a questo surgiu, de que operspectivismo amerndio teria algo a ver com o relativismoocidental, que ele seria uma espcie de relativismo. Eu achavaque no era relativismo, e sim outra coisa. O perspectivismo no uma forma de relativismo. Seria um relativismo, por exemplo,se os ndios dissessem, o que eles no fazem, que para os por-cos todas as outras espcies so no fundo porcos embora pa-ream humanos, onas, jacars etc. No isso que os ndiosesto dizendo. Eles dizem que os porcos no fundo so huma-nos; os porcos no acham que os humanos no fundo sejamporcos. Quando eu digo que o ponto de vista humano sem-pre o ponto de vista de referncia quero dizer que todo ani-mal, toda espcie, todo sujeito que estiver ocupando o pontode vista de referncia se ver a si mesmo como humano in-clusive ns.
-
V]
" # $ % # & ' % (
Como bom estruturalista, o que voc pensa dos caminhos tri-lhados pela antropologia ps-Lvi-Strauss?
Minha impresso que o estruturalismo foi o ltimo grandeesforo feito pela antropologia para encontrar, como haviamtentado vrias outras correntes antes dele, uma mediao entreo universal e o particular, o estrutural e o histrico. Hoje voc vuma divergncia cada vez maior dessas duas perspectivas, elasparecem em risco de se tornar incomunicveis. como se a he-rana da antropologia clssica tivesse sido dividida ao meio(mas, como se sabe, nunca se divide nada exatamente ao meio):os universais foram incorporados pela psicologia; os particula-res, pela histria. Como se a antropologia no pudesse preten-der hoje ser mais que uma soma contingente de psicologia ehistria, como se ela j no tivesse mais um objeto prprio. Comisso se perde, ao meu ver, a dimenso prpria de realidade doobjeto antropolgico: uma realidade coletiva, isto , relacional,e que possui uma propenso estabilidade transcontextual daforma (ou que manifesta a transformabilidade contnua das re-laes, o que a mesma coisa dita de um modo mais enrolado).E isso me parece uma coisa que preciso recuperar. Acreditoque a antropologia deva escapar da diviso para reivindicar comveemncia seu direito indiviso ao mundo do meio, o mundodas relaes sociais.
Tendo em vista esta especificidade, como voc pensa a diferen-a entre a antropologia e a sociologia?
A antropologia o estudo das relaes sociais de um pontode vista que no se acha deliberadamente dominado pela expe-rincia e a doutrina ocidentais das relaes sociais. Ela tentapensar a vida social sem se apoiar exclusivamente nessa heran-a cultural. Se vocs quiserem, a antropologia se distingue namedida em que ela presta ateno ao que as outras sociedadestm a dizer sobre as relaes sociais, e no, simplesmente, parte
-
Wa
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
do que a nossa tem a dizer e tenta ver como que isso quedizemos aqui funciona l. Trata-se de tentar dialogar para va-ler, tratar as outras culturas no como objetos da nossa teoriadas relaes sociais, mas como possveis interlocutores de umateoria mais geral das relaes sociais. Para mim, se h algumadiferena entre antropologia e sociologia, seria essa: o objetodo discurso antropolgico tende a estar no mesmo planoepistemolgico que o sujeito desse discurso.
Como possvel para a antropologia escapar do objetivismohegemnico no pensamento ocidental, esse pensamento do-mesticado?
Os modernos sabemos, os que leram Kant sabem e todoslemos , que o ato de conhecer constitutivo do objeto de co-nhecimento. Mas nosso ideal de Cincia guia-se precisamentepelo valor da objetividade: devemos ser capazes de especificar aparte subjetiva que entra na viso do objeto, e de no confundirisso com a coisa em si. Conhecer, para ns, dessubjetivar tan-to quanto possvel. Voc conhece algo bem quando capaz dev-lo de fora, como um objeto. Isto inclui o sujeito: a psica-nlise uma espcie de caso-limite desse ideal ocidental deobjetivao mxima, aplicado prpria subjetividade. Confor-me nossa vulgata epistmica, consta que a Cincia ser um diacapaz de descrever todo o real em uma linguagem integralmen-te objetiva, sem resto. Ou seja, para ns a boa interpretao doreal aquela na qual -se capaz de reduzir a intencionalidadedo objeto a zero. Do objeto e do ambiente: o controle daintencionalidade ambiente crucial.
Sabemos que as cincias sociais, na ideologia oficial, so ci-ncias provisrias, precrias, de segunda classe. Toda cinciadeve se mirar no espelho da fsica. Isso significa guiar-se pelapressuposio de que quanto menos intencionalidade se atri-bui ao objeto, mais se o conhece. Quanto mais se capaz de
-
W!
" # $ % # & ' % (
interpretar o comportamento humano (ou animal) em termos,digamos, de estados energticos de uma rede neuronal, e noem termos de crenas, desejos, intenes, mais se est conhe-cendo o comportamento. Ou seja, quanto mais eu desanimizo omundo, mais eu o conheo. Conhecer desanimizar, retirar sub-jetividade do mundo, e idealmente at de si mesmo. Na verda-de, para o materialismo cientfico oficial, ns ainda somosanimistas, porque achamos que os seres humanos tm alma.J no somos to animistas quanto os ndios, que acham queos animais, as plantas, qui as pedras, tambm tm. Mas secontinuarmos progredindo, seremos capazes de chegar a ummundo em que no precisaremos mais desta hiptese, sequerpara os seres humanos. Tudo poder ser descrito sob a lingua-gem da atitude fsica, e no mais da atitude intencional. Esta a ideologia corrente, que est na universidade, que est no CNPQ,que est na velha distino entre cincias humanas e cinciasnaturais, que est na distribuio diferencial de verbas e deprestgio. No estou dizendo que esse seja o nico modelo vi-gente em nossa sociedade. claro que no . Mas o modelodominante.
Em contrapartida ao esquema ocidental, o que move asepistemologias indgenas?
Eu diria que o que move o pensamento dos xams, que soos cientistas de l, o contrrio. Conhecer bem alguma coisa ser capaz de atribuir o mximo de intencionalidade ao que seest conhecendo. Quanto mais sou capaz de atribuirintencionalidade a um objeto, mais o conheo. O bom conhe-cimento aquele capaz de interpretar todos os eventos domundo como se fossem aes, como se fossem resultados dealgum tipo de intencionalidade. (Note-se que, se todo evento uma ao, de algum, todo objeto um artefato, para algum.)Para ns, explicar reduzir a intencionalidade do conhecido.
-
W5
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Para eles, explicar aprofundar a intencionalidade do conhe-cido, isto , determinar o objeto de conhecimento como umsujeito.
At no nosso senso comum esse modelo dominante...Exatamente. Sejamos objetivos. Sejamos objetivos? No!
Sejamos subjetivos, diria um xam, ou no vamos entendernada. Bem, esses respectivos ideais epistemolgicos implicamganhos e perdas, cada um de seu lado. H certos ganhos emsubjetivar tudo o que nos passa frente, como h perdas cer-tas. Essas so escolhas culturais bsicas.
Que lugares sobrariam na nossa sociedade para um conheci-mento menos objetivo e mais intencional?
Voc tem uma srie de ideais alternativos, claro, mas socasos evidentemente dominados, subalternos, ou ento vlidosapenas para dimenses bem circunscritas, reduzidas, do real,que se v ontologicamente dualizado: ningum prega, ou pelomenos ningum leva muito a srio se alguma vez algum o pre-gou, que a Verstehen, a compreenso intersubjetiva, deva incluiras plantas, as pedras, as molculas ou os quarks Isto no seriacientfico. Aquele ideal de subjetividade que penso serconstitutivo do xamanismo como epistemologia indgena, en-contra-se, em nossa civilizao, encerrado no que Lvi-Strausschamava de parque natural ou reserva ecolgica dentro dos do-mnios do pensamento domesticado: a arte. No caso do Ociden-te, como se o pensamento selvagem tivesse sido oficialmenteconfinado priso de luxo que o mundo da arte; fora dali eleseria clandestino ou alternativo. Para ns, a arte um contex-to de fantasia, nos mltiplos (inclusive pejorativos) sentidos quepoderia ter a expresso: o artista, o inconsciente, o sonho, asemoes, a esttica... A arte uma experincia apenas no sen-tido metafrico. Ela pode at ser emocionalmente superior, mas
-
WV
" # $ % # & ' % (
no epistemologicamente superior a nada, sequer ao sensoprtico cotidiano. Epistemologicamente superior o conheci-mento cientfico: ele quem manda. A arte no cincia eestamos conversados. justamente essa distino que pareceno fazer nenhum sentido no que eu estou chamando deepistemologia xamnica, que uma epistemologia esttica. Ouesttico-poltica, na medida em que ela procede por atribuiode subjetividade ou agncia s chamadas coisas. Uma escul-tura talvez seja a metfora material mais evidente desse proces-so de subjetivao do objeto. O que o xam est fazendo umpouco isso: esculpindo sujeitos nas pedras, esculpindoconceitualmente uma forma humana, isto , subtraindo da pe-dra tudo aquilo que no deixava ver a forma humana ali conti-da. Os filsofos costumam usar a palavra antropomorfismocomo censura. Eu, ao contrrio, acho o antropomorfismo umgesto intelectual fascinante.
Como voc v os estudos atuais em antropologia urbana?Categorias subdisciplinares do tipo antropologia urbana me
parecem pouco teis. Nada contra estudar em cidades, evidente-mente. Apenas no gosto da expresso antropologia urbana, comono gostaria de antropologia rural, silvestre, montanhosa, cos-teira, submarina Mas no creio que vocs estejam pensandoem antropologia urbana no sentido dos estudos no precisodizer que perfeitamente legtimos, e obviamente importantssi-mos dos contextos sociais das grandes aglomeraes huma-nas. Vocs esto falando, suponho, da chamada antropologiadas sociedades complexas, das chamadas sociedades nacionaisde tradio cultural europia (ou euroasitica). Boa parte do quea antropologia fez ao se aplicar s sociedades de tradio cultu-ral ocidental e de organizao poltica estatal centralizada limi-tava-se a projetar os conceitos e o tipo mesmo de objetocaracterrtico da antropologia clssica para o contexto urbano.
-
WW
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
O que o xam est fazendo um pouco isso: esculpindosujeitos nas pedras,esculpindo conceitualmenteuma forma humana, isto ,subtraindo da pedra tudoaquilo que no deixava ver aforma humana ali contida.Os filsofos costumam usar apalavra antropomorfismocomo censura. Eu, aocontrrio, acho oantropomorfismo um gestointelectual fascinante.
-
WX
" # $ % # & ' % (
Isso no foi muito longe, pois para fazer uma verdadeira proje-o, teria que ser uma projeo no sentido geomtrico da pala-vra: o que se deve preservar so as relaes, no os termos. En-to, o equivalente do xamanismo amerndio no o neo-xamanismo californiano, ou mesmo o candombl baiano. Oequivalente funcional do xamanismo indgena a cincia. ocientista, o laboratrio de fsica de altas energias, o acelera-dor de partculas. O chocalho do xam um acelerador de par-tculas.
Isso no quer dizer que no devamos estudar candombl ouneo-xamanismo, pois claro que devemos. O que estou dizen-do , simplesmente, que uma verdadeira traduo da antropo-logia das sociedades de tradio no-ocidental para a antropo-logia das sociedades ocidentais deveria preservar certas relaesfuncionais internas, e no apenas, ou mesmo principalmente,certas continuidades temticas e histricas. No estou dizendo,insisto, que no se deva estudar parentesco, candombl,xamanismo urbano, pequenos grupos, interaes face a face... Oque estou dizendo que uma antropologia urbana que fizesse amesma coisa que faz a etnologia indgena (supondo que isso sejaalgo desejvel, o que no bvio) estaria ou est estudando oslaboratrios de fsica, as multinacionais do setor farmacutico,as novas tecnologias reprodutivas, as grandes correntes de pen-samento nas universidades, a produo do discurso jurdico,poltico etc.
Ento que tipo de produo voc qualificaria como digna dottulo antropologia das sociedades complexas?
Para ficarmos apenas nos nomes estrangeiros, evocaria au-tores to diferentes como Louis Dumont, Michel Foucault, Bru-no Latour ou Marilyn Strathern. Eu veria o trabalho de Foucaultcomo talvez mais representativo de uma autntica antropolo-gia das sociedades complexas do que, por exemplo, o estudo de
-
Wf
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Raymond Firth sobre o parentesco em Londres. A antropologiaapenas recentemente descobriu toda uma nova rea deantropologicidade das sociedades complexas que at ento erareserva cativa de epistemlogos, socilogos, cientistas polticos,historiadores das idias. Contentvamo-nos com o marginal, ono-oficial, o privado, o familiar, o domstico, o alternativo. Fa-zia-se antropologia do candombl, mas no havia antropologiapara valer do catolicismo. claro que mais fcil e foi absolu-tamente necessrio , num primeiro momento, transportarmoso que aprendemos nos estudos de religio africana para os es-tudos sobre o candombl. Mas no estivemos aqui preservandoas relaes, s os termos. O segundo momento est sendo per-ceber que h mais coisas a fazer do que transportar termos. Vocpode transportar relaes, e ao fazer isso estar criando concei-tos, algo que a antropologia das sociedades complexas levou al-gum tempo at estar em condio de fazer. At bem recentemen-te, a antropologia estava muito marcada por aqueles conceitosproduzidos em seu contexto clssico: reciprocidade, feitiaria,mana, troca, totem, tabu. Ento os antroplogos das socieda-des complexas buscavam o mana aqui, o totemismo acol...Tudo bem, mas acho que d para ir mais longe, e estamos efeti-vamente indo mais longe: estamos comeando de fato a fazerantropologia simtrica, que antropologizar o centro e noapenas a periferia da nossa cultura. O centro da nossa cultura o estado constitucional, a cincia, o cristianismo. Ser capazde estudar estes objetos uma conquista recente da antropolo-gia. A antropologia das sociedades complexas teve o inestim-vel mrito de mostrar que o perifrico e o marginal eram parteconstitutiva da realidade sociocultural do mundo urbano-mo-derno, desmontando assim a auto-imagem do Ocidente comoimprio da razo e do estado, do direito e do mercado. Mas oprximo passo analisar essas realidades mais ou menos ima-ginrias que, de incio, empenhamo-nos apenas em deslegitimar.
-
We
" # $ % # & ' % (
No me parece mais to necessrio (posso estar muito erradoaqui) deslegitimar, ou apenas deslegitimar, essas mquinas depesadelo; agora o que preciso estudar minuciosamente seufuncionamento algo que talvez s se tenha tornado possvelna nossa ps-modernidade tardia, quando razo, Estado, direi-to e mercado comeam, justamente, a deixar de funcionar tobem, ou pelo menos a deixar de convencer to bem a tanta gen-te de que eram objetos universais eternos.
Voc acredita que sua obra possa contribuir para uma antro-pologia da sociedade brasileira?
No estou excessivamente familiarizado com a antropolo-gia da sociedade brasileira. Fui fazer etnologia para fugir da so-ciedade brasileira, esse objeto pretensamente compulsrio detodo cientista social no Brasil. Como cidado, sou brasileiro eno tenho objeo a s-lo. Ou melhor, para dizer a verdade,freqentemente me vejo sentindo grande vergonha de s-lo; nofaltam motivos, passados como presentes, histricos como co-tidianos, para isso. Mas sempre lembro que se fosse natural dequalquer outro pas, teria outros tantos bons motivos para sen-tir vergonha, e isso que me faz no ter realmente maioresobjees ao fato de ser brasileiro. Porque, em ltima anlise,tanto faz. Ser humano, perante os demais viventes, j com-plicado o bastante. O que no quer dizer que a conscincia deser brasileiro no me mobilize eticamente, no me interpele po-liticamente, nem me faa experimentar a mistura ambivalentede sentimentos e de disposies associada a qualquer perten-a objetiva.
Fico alis pensando que talvez seja nisso que consiste real-mente o sentimento de pertencer a uma nao: ter motivos to-dos prprios para se envergonhar, to prprios quanto (senomais que) os sempre lembrados motivos de se orgulhar. Issoquando os ditos motivos no so, como suspeito que quase
-
Wg
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
sempre so, os mesmos motivos. Todo orgulho confessa umavergonha. E toda vergonha clama por (a)pagamento.
Enfim, sou brasileiro e coisa e tal. Raras so as vezes em quepenso nisso; e quando o fao, em algumas delas acho at bom.Como bem disse Tom Jobim, ao retornar ao Rio depois de anosmorando nos Estados Unidos: l fora legal, mas uma merda;aqui uma merda, mas legal... Grande verdade; ainda que euno tenha certeza de que a simetria do juzo se sustente perfeitanos dias que correm, infelizmente. De qualquer modo, comopesquisador no acho que esteja obrigado a ter como objeto achamada realidade brasileira, essa curiosa e intraduzvel no-o. No se exige isso dos matemticos ou dos fsicos. Os fsicosbrasileiros no esto estudando a realidade brasileira. Estoestudando, salvo engano (meu ou deles), apenas a realidade. Porque um cientista social brasileiro no pode fazer a mesma coi-sa? O Brasil uma circunstncia para mim, no um objeto;entendo, sobretudo, que o Brasil uma circunstncia para ospovos que estudo, e no sua condio fundante.
E o compromisso em relao s sociedades indgenas que vocestuda?
Aqui outra histria. Acho que o Brasil, entenda-se, o Es-tado e as classes dominantes, sempre se comportou de maneiraignbil perante as populaes indgenas. Escolhi estudar os n-dios. Mas o meu compromisso com estes povos que estudono um compromisso poltico, mas um fato biogrfico, umaconseqncia de minha vocao e carreira profissionais. Nofao do meu compromisso com os ndios, nem a causa, nem oobjeto, nem a justificativa da minha pesquisa. Ele no nenhu-ma dessas coisas; ele a condio do meu trabalho, que aceito eque nunca me pesou. Tenho grande desconfiana de justifica-es polticas da pesquisa. No acho uma coisa l muito nobrejustificar-se mediante um apelo, em geral ostentatrio, impor-
-
W]
" # $ % # & ' % (
tncia poltica do que se est fazendo. Os perigos da auto-com-placncia so enormes (mais uma vez, todo orgulho uma ver-gonha). Por fim, tenho visto tantas vezes isso de compromissopoltico ser usado como uma espcie de tranqilizanteepistemolgico No sinto a menor simpatia por isso. Acho ostranqilizantes timos; mas quando se trata de pensamento,prefiro os inquietantes.
-
Xa
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Vejo os Arawet atravs da minhaexperincia com antropologia
-
X!
" # $ % # & ' % (
H%'.'8P8"K.C%(k.6".E"#"T"(.N8(&%(.".$8'E"#.'98K
-
X5
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
H*@:0>+)+.-,0D0=+:O2=42.=+
'21034+.9:A+Z2O.5aa5i
Seus textos sobre os Yawalapit foram muito importantes naseqncia de suas investigaes. Tipicamente aqueles sobrecorporalidade. Inclusive o famoso artigo que voc escreveu comAnthony Seeger e Roberto Da Matta. Este pode ser visto comouma espcie de projeto, que orientou mais de uma dcada depesquisas. Tudo isso remete ao Programa de Ps-Graduaoem Antropologia Social do Museu Nacional. Gostaria que vocfalasse sobre o ambiente intelectual dessa poca no Museu Na-cional. Particularmente sobre Seeger, que sempre me pareceuter tido um papel especialmente relevante no engendramentoda etnologia regional das ltimas dcadas.
Sem dvida. Olhando isso a partir de hoje, das geraes maisnovas, poderia se imaginar que a etnologia sempre foi uma reaforte no Museu. Nada disso. verdade que o PPGAS foi fundado
Vejo os Arawet atravsda minha experinciacom a antropologiaH%'.'8P8"K.C%(k.6".E"#"T"(.N8(&%(.".$8'E"E.'98K
-
XV
" # $ % # & ' % (
por etnlogos, em 1968: Roberto Cardoso de Oliveira na pocaainda muito prximo da etnologia , David Maybury-Lewis queacabava de publicar sua monografia sobre os Xavante e que en-to coordenava um grande projeto de estudos sobre os J doBrasil central , e Lus de Castro Faria. Mas em pouco tempo,por algum motivo, a etnologia entrou em baixa ali. Minha dis-sertao de mestrado a trigsima stima defendida na insti-tuio foi apenas a terceira ou quarta que tratava de povos in-dgenas, muito tempo aps as de Paulo Marcos Amorim e GeorgeZarur, concludas nos primrdios do PPGAS.3 Aps essas duas,houve um longo perodo em que a etnologia praticamente de-sapareceu do Museu. Pois Roberto Cardoso logo foi para Braslia,em seguida ao [Jlio Cezar] Melatti e ao Roque [Laraia]. Matta,que havia permanecido, naquele momento estava se afastandoda problemtica indgena e se voltando para a da sociedade na-cional; Castro tambm andava por outras plagas intelectuais.Quando entrei no PPGAS, em 1974, na minha turma no havianingum interessado em etnologia; esta era uma opo fora decogitao. O prprio Matta estimulava os prprios alunos a sedirigirem para outras reas. Ingressei no Museu Nacional com aperspectiva de fazer antropologia urbana, pois tivera a idia,quando ainda na PUC, de fazer uma pesquisa sobre o consumode drogas pela classe mdia carioca. Comecei ento, no Museu,trabalhando com Gilberto Velho. Por conta de uma certa indeci-so sobre se eu queria mesmo fazer carreira de pesquisa nessarea (e de um certo cansao com a subcultura das drogas onde euera um participador observante), fui parar no Xingu, a pretextode dar uma olhada. Charlotte Emmerich, lingista do Museu, iafazer uma visita ao Parque do Xingu e me convidou, junto comoutros estudantes, a acompanh-la. Fiquei fascinado com o quevi naqueles sertes, do duplo ponto de vista, da terra e do ho-mem. Eu praticamente nunca havia sado do Rio, o choque sen-sorial e intelectual foi enorme, e mais que bem-vindo. L estava
2.=+
-
XW
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
o Brasil que me interessava, afinal. Foi assim que pus na cabe-a que ia trabalhar com ndio. Matta, na poca meu orientador,me deu todo o apoio; como todos sabem, ele tinha uma baga-gem enorme na rea, embora no estivesse mais nessa.
A etnologia, pois, era uma coisa um tantinho extica naque-la poca no Museu, meados da dcada de 1970. O grande centrode pesquisa sobre ndios era ento a USP, com a garotada em tor-no da Lux Vidal. Na UNB, a etnologia comeava a se consolidar,com o grupo que havia sado do Museu. Foi a que AnthonySeeger chegou ao Museu: em 1975, exatamente. Ele j havia pas-sado por l como estagirio (do Matta, creio) alguns anos antes,quando fazia sua pesquisa entre os Suy. Seeger acabara de fa-zer seu doutorado com Terence Turner em Chicago, e Terry ti-nha sido aluno de David Maybury-Lewis, bem como membrodo projeto HarvardMuseu Nacional.
Tony havia estudado um grupo J, os Suy, situado no Par-que do Xingu. Ele conhecia, assim, a realidade do Alto Xingu, eco-orientou (com Matta) meu mestrado sobre os Yawalapiti;depois, orientou meu doutorado sobre os Arawet. Foi com TonySeeger que se deu o renascimento do interesse pela etnologiano Museu. Ele juntou rapidamente em torno de si alguns alu-nos a quem conseguiu dar uma slida formao, e sobretudoinfundir entusiasmo pela especialidade. Tony Seeger era umprofessor excelente e um grande exemplo de etnlogo. Acho queo ensino na ps-graduao se faz mais pelo exemplo do que pelatransmisso discursiva de contedos. Tony, a meu ver, umailustrao viva desse princpio. Para alm de seu domnio teri-co e tcnico da disciplina, sua competncia profissional, ele era(e ) uma pessoa de primeira qualidade, aberta, democrtica egenerosa, um modelo de integridade e de honestidade intelec-tuais; em suma, um ser humano relativamente raro. Em tornodele, juntaram-se Vanessa Lea, Elizabeth Travassos, Tnia StolzeLima e eu; a estes cabe acrescentar, como companheira de via-
-
XX
" # $ % # & ' % (
gem, Bruna Franchetto, etnolingista, que era aluna de YonneLeite. Com exceo parcial da Beth Travassos, todos continua-mos na etnologia.
Ento minha formao como etnlogo foi dada essencial-mente por professores que haviam pertencido, mediata ou ime-diatamente, ao grupo de Maybury-Lewis: ao Harvard-CentralBrazil Project (ou Projeto HarvardMuseu Nacional), queinaugurou a fase moderna da etnologia no Brasil e que alm dis-so uma das linhas de origem do PPGAS. Meus ndios tpicoseram, assim, os do Brasil central, os J e os Bororo. Minha for-mao em etnologia brasileira foi feita por esse vis e pelas ques-tes tericas a ele associadas, que se achavam sob a jurisdiodo estruturalismo. Tal influncia estruturalista se dava, a rigor,muito mais no plano da agenda temtica do que propriamenteno da inspirao doutrinria ou terica. Porque na verdade essepessoal Tony, Matta, David chegara a Lvi-Strauss via seusintrpretes anglo-saxes, em particular [Edmund] Leach e[Rodney] Needham, os quais hibridizaram intensamente o es-truturalismo de Lvi-Strauss com os funcionalismos deMalinowski ou de Radcliffe-Brown. Por isso, h um cruzamentocomplicado na base de minha formao: as leituras anglo-saxsdo estruturalismo, as pesquisas etnogrficas entre os J, e mi-nha prpria infra-estrutura cultural, bem mais francesa queanglo-sax primeiro lvi-straussiana depois antropolgica,digamos assim ; ao contrrio da de meus professores.
Os J ingressaram no cenrio antropolgico mundial graas leitura que Lowie e, depois, Lvi-Strauss e Maybury-Lewis fi-zeram das monografias de Nimuendaju. Eu, por razes que nosaberia hoje dizer quais foram, no fui estudar os J. Como dis-se, fui parar no Xingu, nessa pequena viagem de turismoetnolgico guiada por Charlotte Emmerich. Charlotte havia fei-to uma dissertao sobre o txiko, lngua caribe falada pelo povohomnimo, hoje melhor conhecido por seu nome prprio,
-
Xf
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Ikpeng. Quanto a mim, fiz minha pesquisa de mestrado sobreuma populao xinguana, os Yawalapiti, de lngua aruaque.
Assim que at hoje eu escrevo, de certa maneira, contra,em vrios sentidos, essa minha formao centro-brasileira ouj-olgica. Contra, antes de mais nada, no sentido de t-lacomo pano de fundo constante, como referncia. Mas contratambm no sentido em que eu sempre procurei aquilo que es-capava da grade interpretativa e temtica nascida naquela coo-perao entre ndios e etnlogos que deu na grande etnologia jda dcada de 1970. O que eu fiz no Xingu foi mais um exerccioestilstico do que propriamente um trabalho de etnologia. O queme chamou mais a ateno, desde que comecei a ler a literatu-ra sobre o Xingu, foi que l no pareciam fazer sentido aquelasrepresentaes arquetpicas da sociedade dualista, onde omundo inteiro pode ser rebatido sobre grandes oposies tiponatureza/cultura, centro/periferia, homens/mulheres etc. Istono funcionava bem no contexto xinguano. Um texto que memarcara muito naquela poca era o texto clebre de Julio CezarMelatti sobre a concepo da pessoa j, composta de dois la-dos: um, privado, corporal, consangneo; e outro, pblico, no-minal, onomstico e mais ligado praa, ao cerimonial, etc. Aoposio central aqui entre o nominador e o genitor, entre oaspecto corporal ou fsico e o aspecto social ou metafsico dapessoa. O que me chamava ateno no Xingu como a todos osque iam pesquisar l era o complexo da recluso dos adoles-centes, atravs do qual o corpo era integralmente investido pelasociedade: como ele era imaginado (no sentido de se conferiruma imagem ao corpo), moldado, esculpido socialmente. Eu alino conseguia ver a distino entre um lado pblico e um pri-vado. Sobretudo, entre um lado corporal e um moral. Achavaque a recluso xinguana era o indcio decisivo de que o corpotinha um outro estatuto ali, muito diferente do que possua en-tre os J. Alm disso, eu no conseguia ver com tanta clareza l
-
Xe
" # $ % # & ' % (
como via nas monografias sobre o J uma cosmologia siste-maticamente organizada em torno da oposio natureza/cul-tura. Sentia que havia dimenses da sociedade xinguana queescapavam desse binarismo.
Todo o meu trabalho posterior terminou girando em tornodesses temas, que me apareceram naquele momento inicial:repensar o estatuto da corporalidade nos modos de socialidadeindgenas; problematizar o dualismo como chave interpretativa,seja nativa, seja antropolgica; e tentar determinar planos e fe-nmenos que escapem desse quadro. Nesse sentido que eudigo que tenho escrito contra os J. Hoje estamos em posiode ver que a leitura que ento era feita deles parcial comotoda leitura. Ela esclarecia umas coisas s custas de obscureceroutras. O pndulo s vezes bate no plo oposto, e hoje h umacerta tendncia em se dizer que muito, seno quase tudo o queos etnlogos da dcada de 1970 escreveram sobre os J, estavaerrado. Mas claro que no estava! Os aparelhos conceituais quehoje usamos so outros, e isso (quase) tudo.
Algo que se encontra muito na origem do trabalho dosetnlogos a procura por uma outra ptria por assim dizer.No artigo O campo da selva, visto da praia voc escreveu quepassou a estudar ndios para fugir do Brasil. Por favor, comen-te isto.
verdade, eu falei isso. Bem, falei brincando, e para fazerpirraa... mas no s por isso. Graduei-me em Cincias Sociais,com especializao em Sociologia, em 1973, na PUC do Rio deJaneiro. Minha formao, como a de todos os estudantes de So-ciologia da poca final da dcada de 1960, comeo da de 1970, girava em torno da sociologia do desenvolvimento e da teoriada dependncia. Era uma sociologia terceiro-mundista clssica,com forte inspirao marxista (talvez devesse pr este adjetivoentre aspas), e que tinha como eixo a teoria da dependncia.
-
Xg
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Isso me entediava morte. Eu tinha posio e atuao polticas,como todos na poca. Mas essa atuao poltica no se traduziaem (e no aplicava) nenhuma questo terica. A sociologia dodesenvolvimento no me entusiasmava nem um pouco. No porqualquer incompatibilidade ideolgica, mas simplesmente por-que eu no gostava do assunto. Na verdade, meus interesses ehabilidades sempre estiveram mais prximos da metafsica queda teoria poltica. Quanto atividade poltica propriamente dita,sempre tive pendores mais contemplativos do que ativistas. Des-cobri a Antropologia na universidade pelo seu lado mais abstra-to, mais filosfico. O estruturalismo, no comeo da dcada de1970, era dado na Sociologia da PUC por um professor de literatu-ra, Luiz Costa Lima. Luiz estudava poca Lvi-Strauss, que en-to estava sendo usado pela teoria e crtica literrias. Ele era umprofessor excepcional, muito meticuloso, mas tambm, comoSeeger, muito generoso. Li com volpia as quatro Mitolgicas,no contexto desses cursos sobre mtodos de anlise e de inter-pretao textual. Foi por essa via que descobri os ndios. Atento, eles para mim no existiam como problemtica, quandose falava em Brasil: havia luta de classes, campesinato, proleta-riado, revoluo, industrializao, feudalismo, burguesia naci-onal, troca desigual, desenvolvimento do subdesenvolvimento,esse tipo de coisa. Mas ndio simplesmente no existia. Os ndi-os no eram um componente da populao brasileira, do pontode vista da sociologia que eu aprendi. Fui descobrir os ndiosem Lvi-Strauss e no na sociologia do Brasil. At porque, mes-mo os autores que naquela poca trabalhavam com ndios pelovis de uma sociologia do Brasil, como Roberto Cardoso de Oli-veira, no tinham nenhuma penetrao no meu curso.
Alm do Costa Lima, quem eram seus professores?Luiz Werneck Vianna, Elisa Reis, Vera Pereira, Edmundo Dias,
Miriam Limoeiro, o velho Manuel Diegues Jr., o filsofo Roberto
-
X]
" # $ % # & ' % (
Machado... A maioria era bem jovem; a PUC estava em plenaefervescncia poltica no Rio dos anos 1970. O curso era centradona teoria sociolgica clssica: Marx, Weber, Durkheim; haviamuita epistemologia althusseriana tambm. Quanto ao Brasil,como j disse, era teoria do desenvolvimento e da dependncia.Assim que fui descobrir os ndios pela mitologia e o parentes-co, no pelo contato intertnico, a expanso do capitalismo etc.Atravs de mitos analisados por Lvi-Strauss, lidos no contextode cursos de teoria literria. Uma entrada na disciplina por umvis muito particular, sem dvida. E, alis, quando me decidipelo Museu Nacional, no estava pensando em trabalhar comndio. Ia estudar grupos jovens no Rio, de classe mdia, usuri-os de drogas.
Foi Luiz Costa Lima quem me convenceu a fazer antropolo-gia no Museu. Eu pensava, no fim da graduao, em fazermestrado na rea da Teoria da Literatura, Letras, por a. Luiz medisse para deixar disso que eu tinha jeito mesmo era para antro-plogo, e devia seguir por ali.
Isto foi antes ou depois da tese de Gilberto Velho?Eu me tornei assistente de Gilberto em sua pesquisa de dou-
torado. Entrei no Museu em 1974. Gilberto estava terminando apesquisa que deu na tese Nobres e anjos. Eu colaborei na partesobre os anjos, o pessoal mais jovem, no contexto da compara-o entre os dois estratos geracionais pesquisados. Eu tinha al-guma experincia pessoal com esse grupo. Mas, apesar de todoo meu interesse pelo assunto, e do muito que aprendi com Gil-berto, eu ao mesmo tempo estava querendo fazer outra coisa.Continuava marcado por aquela leitura que fizera de Lvi-Strauss na PUC. E assim, acabei me deslocando para a rea deinfluncia do Matta. Mesmo que ele no trabalhasse mais comndio ento, aquela era a sua praia. Matta estava publicando suatese de Harvard sobre os Apinay, que saiu em portugus em
-
fa
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
1976. Voltei, ento, s questes indgenas com Matta, e, atravsdele, a um dos dois tipos de etnologia caractersticos da fase ini-cial do PPGAS.
Se voc olhar os programas dos primeiros cursos do PPGAS,vai ver que em muitos deles existe uma influncia direta do quese ensinava em Oxford nas dcadas de 1950 e 60. David[Maybury-Lewis] tinha sido aluno em Oxford e tinha trazido comele uma concepo disciplinar do currculo, do tipo de antro-pologia, da bibliografia muito marcada pela formao clssi-ca britnica. Foi para esse lado que eu pendi.
Mas havia uma outra vertente etnologicamente relevante nosmeus primeiros anos do PPGAS: a da demolio crtica dos estu-dos de comunidade. A problemtica quente, nessa conexo,era a das formas de transio para o capitalismo, a questo domodo de produo intermedirio, as formaes pr-capitalis-tas, o modo de produo (ou no) campons. Havia ento todaessa vertente de estudos e de estudiosos que pensavam a popu-lao brasileira sob o signo do campesinato. Os ndios entra-vam aqui tambm. Qual o estatuto das populaes indgenasnesse quadro do campesinato brasileiro? Era um campesinatocomunal? E assim por diante. E havia aquela outra vertente, re-presentada pelos alunos mais diretos de Maybury-Lewis, comoMatta, que fez seu doutorado com ele em Harvard e que pensa-va os ndios dentro de um outro horizonte de questes.
Mariza Peirano observa que h duas maneiras diferentes dese estudar as populaes indgenas no Brasil: uma, vendo-ascomo situadas no Brasil; a outra, vendo-as como parte do Bra-sil. Essa diferena fundamental em termos das questes queso colocadas. Se voc os concebe como situados no Brasil, talsituao constitui uma condio apenas superveniente, noconstitutiva: os ndios que voc estuda esto no Brasil por aca-so, no sentido radical da expresso; sua brasilidade contin-gente. Caso voc os veja como parte do Brasil, ao contrrio, sua
-
f!
" # $ % # & ' % (
brasilidade algo necessrio; o que os torna objeto legtimo deinvestigao antropolgica sua participao em estruturas decontato intertnico etc. Esta ltima problemtica estava, po-ca, em pleno florescimento terico, e carnalmente articulada questo das formas de transio para/do capitalismo (acho queela continua pertencendo a este ltimo contexto terico-polti-co, apenas esqueceu disso...). Para mim, tal abordagem estavaprxima demais daquilo de que eu estava fugindo, a saber, aimagem do Brasil formulada pela teoria da dependncia e queeu via como representando o ltimo avatar do pensamento so-cial burgus no Brasil, sua teoria da nacionalidade, iniciada nasprimeiras dcadas do sculo XX por pensadores como OliveiraVianna, Gilberto Freyre e outros, e depois irrigada por um im-portante aporte marxista, por gente como Caio Prado e outros.Mas para mim era tudo uma coisa s, e uma coisa profunda-mente equivocada: era um modo de se transformar o ndio embrasileiro, quando o que se precisava, teoricamente falando, eratransformar o brasileiro em ndio
Estudar os ndios com essa embocadura, como parte doBrasil, para mim era permanecer comprometido justamentecom aquilo que eu recusara ao escolher a Antropologia. Se qui-sesse fazer isso, teria continuado na Sociologia. Eu estava clara-mente, pois, enraizado no partido daqueles que, para usarmosa linguagem de Mariza Peirano, entendiam os ndios como ape-nas situados no Brasil. Para este ponto de vista, os ndios sointeressantes porque so seres humanos, no porque so brasi-leiros. As questes aqui, ento, so: o que uma sociedade emgeral? O que parentesco, mitologia, religio? Como possvelviver uma vida completamente outra que a nossa? J as per-guntas colocadas sobre os ndios quando se os v como partedo Brasil so: o que a sociedade brasileira? Qual o lugar dosndios nela? Como possvel construir uma sociedade brasi-leira mais justa?
-
f5
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
Perguntas tais como postas no clssico, A sociologia do Brasilindgena, do Roberto Cardoso de Oliveira?
Exatamente. Veja que o ttulo desse livro ambguo. Ele nosignifica necessariamente uma sociologia do Brasil indgenaonde o essencial o Brasil. Ele tambm pode significar uma so-ciologia daqueles povos indgenas isto , feita por eles quepor acaso esto no Brasil.
Era assim pelo menos que eu via as coisas. Era uma questode preferncia, nada mais que isso. Preferncia, tambm, pelaantropologia dita clssica, que eu tinha descoberto por sua frentemais recente, s indo chegar ao seu comeo bem depois (comotodo intelectual brasileiro, e, no fundo, todo mundo, descobreessas coisas pelo fim). Como disse, descobri a antropologiapor Lvi-Strauss; Boas, Mauss, Rivers, Malinowski, s bastantetempo depois. Eu estava entrando na Antropologia pelo que, napoca, era sua vanguarda, e s fui reconstituir a formao dadisciplina ao cabo do curso de mestrado.
Creio que o autor de um clssico tem de ter pacincia com asapropriaes que os leitores fazem de seu texto. Seu livro so-bre os Arawet , de dentro, um texto comparativo, apesar etpour cause de voc ter feito uma etnografia baseada em tra-balho de campo relativamente extenso, de onze meses. Voc re-aliza uma descrio dos Arawet, estando ancorado, pois, numaetnografia. Porm, j a, no plano etnogrfico, h um marcadovis comparativo. No, evidentemente, daquela comparaoque se realiza a posteriori. Assim, de certa maneira o que vocfaz uma inverso do trabalho do Lvi-Strauss.
Esta uma observao muito perspicaz. Porque na verdadeh muitas razes para eu ter adotado esse vis comparativo um comparativismo imanente, digamos assim, em vez de umacomparao ao estilo de [George] Murdock. Minha etnografiano tem grande auto-suficincia descritiva. H buracos, h de-
-
fV
" # $ % # & ' % (
ficincias relativas a muitas reas, muitos temas e tpicos sobreos quais no tenho uma viso satisfatria. Por outro lado, che-guei aos Arawet a partir de uma leitura intensiva do materialtupi, a partir da qual eu j tinha formulado diversas questesgerais. Antes de chegar aos Arawet, tive outras pequenas expe-rincias etnogrficas: primeiro com os Yawalapiti, depois umpequeno tempo entre os Kulina, depois entre os Yanomami. Euno estava procurando um grupo tupi para estudar, foi circuns-tancialmente que os Arawet se tornaram uma opo para mim.Mas pouco antes de ir para l (e sem saber que ia) eu havia feitouma leitura atenta da bibliografia etnolgica tupi. Era uma lite-ratura um pouco decepcionante, pois com uma ou duas exce-es cruciais no parecia marcada por grande dinamismo te-rico. Todos os debates conceitualmente palpitantes da pocatravavam-se no Brasil central, como j disse. Mas quando che-guei aos Arawet, j tinha absorvido as duas teses de FlorestanFernandes e o livrinho de Hlne Clastres sobre o profetismo.Eu conclura que essas trs monografias levantavam uma quan-tidade de questes que no tinham sido enfrentadas pelaetnologia recente. Em parte, porque eram questes diferentesdas presentes entre os J. Em parte, porque no eram questesmuito fceis de serem abordadas nos quadros de um estrutura-lismo ortodoxo, daquele que v o mundo com as lentes dototemismo, da razo classificatria exposta por Lvi-Strauss emO pensamento selvagem. Havia na literatura tupinamb, em par-ticular, uma srie de problemas que no se encaixavam muitobem na mquina binria, totemista, do estruturalismo clssico.
De imediato, convenci-me de que o complexo do canibalis-mo guerreiro era algo para cuja compreenso os instrumentosde bordo do estruturalismo eram insuficientes. Esse complexoera um caso ideal para se estudar a centralidade, do ponto devista de uma verdadeira antropo-semiologia, de uma dimensoda prxis de difcil apreenso pelo mtodo estruturalista: o ritu-
-
fW
" 678' 6 % . / 9 / " 9 ' % ( . 6 " . $ 8 ( & ' %
al, esse primo pobre do mito. Pois o mtodo estrutural muitoadequado para descrever permutaes discretivas e esquemasproposicionais, e menos eficiente quando se trata de analisarseqncias de aes e processos transformativos, que remetemantes continuidade que descontinuidade, antes irreversibilidade que reversibilidade, que pertencem mais aoplo do sacrifcio do que ao plo do totemismo, nos termos deO pensamento selvagem. Eu via o canibalismo tupi como umfenmeno da srie sacrifcio, no da srie totemismo (depoisvim a tomar o canibalismo como um exemplo privilegiado doconceito de devir-outro, no sentido desenvolvido por G. Deleuzee F. Guattari no Milles plateaux: capitalisme et schizophrnie 2,escapando assim alternativa dicotmica simples entre o sa-crifcio e o totemismo). Isto me levou a esboar o projeto teri-co geral: seria possvel fazer uma explorao desse outro ladoda lua, desse lado escuro da lua estruturalista que o lado dosacrifcio, da metonmia, do ritual, da irreversibilidade? Que taltentar fazer um dilogo com a etnologia tupi que seja um escre-ver contra Lvi-Strauss, mas um contra naquele sentido queantes comentei, ao falar da literatura sobre os J?
A leitura formativa das Mitolgicas foi decisiva para a minhaconvico de que no h etnologia que no seja imediatamentecomparativa. A comparao constitutiva do objeto etnolgico,ela no algo que vem a posteriori, como se d no paradigmafuncionalista clssico, monogrfico, que era ainda, no fundo, omodelo dos meus professores. Nos termos desse paradigma,primeiro voc tem de descrever as sociedades A, B e C para de-pois compar-las, buscando a resultante, os pontos comuns, ospontos diferentes. A comparao a posteriori: primeiro aetnografia, depois a comparao. Neste contexto, sempre meintrigou uma frase de Lvi-Strauss, que me serve de alerta cons-tante apesar de eu no entender completamente o que ela querdizer... Ela reza: No estruturalismo, a generalizao funda a
-
fX
" # $ % # & ' % (
comparao e no o contrrio. Em suma, no se trata de com-parar para generalizar; devo antes generalizar isto , construirhipteses para depois comparar. Eu achava que era isso que seprecisava fazer, e via o modo de proceder de meus professorescomo ainda tributrio da viso tradicional, monogrfica, dacomparao. Tentei fazer um pouco